Resumo O Arado - Zila Mamede
Resumo do Livro O Arado de Zila Mamede.
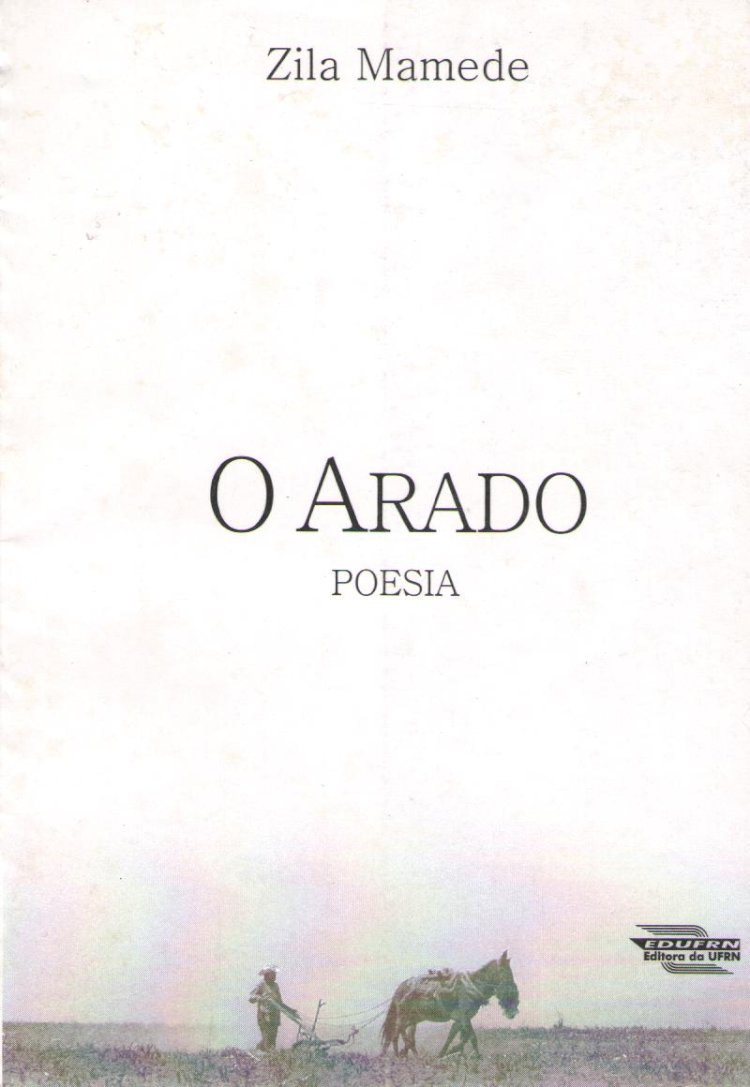
POESIA
Zila Mamede nasceu em Nova Palmeira, Paraíba, em 15 de setembro de 1928, e faleceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 13 de dezembro de 1985. 1953, como bolsista da Biblioteca Nacional, concluiu o curso de Biblioteconomia no Rio de Janeiro. Depois, cursou também Biblioteconomia nos Estados Unidos, como visitante e bolsista da Biblioteca do Congresso. Organizou e dirigiu a Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje leva o seu. Além dos livros de poesia, publicou: Luís da Câmara Cascudo: 50 anos de vida intelectual, e Civil Geometria, sobre a obra do poeta João Cabral de Melo Neto.
ARADO
Arado cultivadeira
rompe veios, morde chão
Ai uns olhos afiados
rasgando meu coração.
Arado dentes enxadas
lavancando capoeiras
Mil prometimentos, juras
faladas, reverdadeiras?
Arado ara picoteira
sega relha amanhamento,
me desata desse amor
ternura torturamento.
RUA (TRAIRI)
Nos cubos desse sal que me encarcera
(pedra, silêncios, picaretas, luas,
anoitecidos braços na paisagem)
a duna antiga faz-se pavimento.
Meu chão se muda em novos alicerces,
sob as pedreiras rasgam-se meus passos;
e a velha grama (pasto de lirismos)
afoga-se nos sulcos das enxadas,
nas ânsias do caminho vertical.
Ao sono das areias abandonam-
se nesta rua vívidos fantasmas
de seus rios-meninos que descalços
apascentavam lamas e enxurradas.
Meu chão de agora: a rua está calçada.
O ALTO (O AVÔ)
Dum anteavô tivera na colina
os alicerces, que de avô ganhara
açude, pastos, farinhada, chão.
Guardara na cacimba os aguaceiros
E de seu sono sacudira ovelhas,
Meninos, maravalhas, plantação.
Multiplicara à mesa concha e mel:
moinhos que teceram do amarelo
de tanta espiga, madrugada e pão.
Em campo arado repartira mudas
que mãos infantes modelaram sob
plantio manso e vesperal de grão.
De terra e de meninos comporia
(na velha bolandeira da tapera)
essa marca de suor numa canção.
O ALTO (A AVÓ)
A adolescer ainda novo teto
ganhara, conduzindo nos cabelos
abandonados, um tranqüilo sol.
Acrescentara ao dote a flauta azul
(com que saudara tardes e rebanhos)
e seu chinelo feito em flor de lã.
Das fibras do algodão, por entre dedos,
no fuso aconchegara brancos fios
de que tecera rendas infantis
e varandal de rendas. Camarinhas
cercaram-lhe mistérios maternais:
espera, medo, alumbramento, amor.
Mas seu cantar desfez-se no caminho
Sem chegar mais que aos nascituros filhos
– estrela, uma de agosto a viu morrer.
Herdei a deslembrança de seus olhos
e dessa flauta que tocara à noite
vertendo paz e sono a meu avô.
O PRATO
Na casa escura, o prato campinava
dimensão magra de conviva e pasto.
Se lume de candeia refletia,
naquela toalha, o barro inerte branco
uma dor de menino sacudia
as miragens de pão que o habitavam.
Liberta de função a branca rosa
desarvorada luz se fazia
nas cercas, no curral espantamento
em que o menino reinventara reino
onde aboiavam prados. Infiltrava-se
na mesa neutra e vã o medo infante:
os dedos cavalgados por fantasmas
serenamente despedaçam luas.
O RIO
A Mauro Mota
Um rio adormecido em cada infância,
no seco ou de enchente, intempestivo
rio que não cresceu – riacho riba.
Mas o que conta em nós é mesmo o rio
correndo na memória com seu jeito
e rio, sua boca chã de rio,
a força de ser rio e ser caminho
de rio, noite assombração de rio,
chamado ser em oculto chão de rio,
ter os remorsos fluviais de rio
que afogou nas areias dois meninos
e de seu pranto fez nascer cacimbas.
BANHO (RURAL)
De cabaça na mão, céu nos cabelos
à tarde era que a moça desertava
dos arenzés de alcova. Caminhando
um passo brando pelas roças ia
nas vingas nem tocando; reesmagava
na areia os próprios passos, tinha o rio
com margens engolidas por tabocas,
feito mais de abandono que de estrada
e muito mais de estrada que de rio
onde em cacimba e lodo se assentava
á gua salobre rasa. Salitroso
era o também caminho da cacimba
e mais: o salitroso era deserto.
A moça ali perdia-se, afundava-se
enchendo o vasilhame, aventurava
por longo capinzal, cantarolando;
desfibrava os cabelos, a rodilha
e seus vestidos, presos nos tapumes
velando vales, curvas e ravinas
(a rosa de seu ventre, sóis no busto)
libertas nesse banho vesperal.
Moldava-se em sabão, estremecida,
cada vez que dos ombros escorrendo
o frio d’água era carícia antiga.
Secava-se no vento, recolhia
só noite e essências, mansa carregando-as
na morna geografia de seu corpo.
Depois, voltava lentamente os rastos
em deriva à cacimba, se encontrava
nas águas: infinita, liquefeita.
Então era que a moça regressava
tendo nos olhos cânticos e aromas
apreendidos no entardecer rural.
O AÇUDE
A Odilon Ribeiro Coutinho
Velha parede ponte limitando
os dois barrancos entre chão e chão.
Ao passadiço (em que montavam luas,
xexéus milipousavam no mourão)
a represança vinha da montante
em balde concha. Sobre a levação
do sangradouro retesou-se tempo
de quando as águas, nos regando a mão,
desciam na revência, verdivida
amarelando cheiro de melão:
eram celeiros, peixes nas maretas
e em nós era ternura, era canção.
Sobras do antigo na menina extinta:
redorme na vazante a solidão.
ANTECOLHEITA
Ah te saber distante, embora a chuva
amarelaça em frutos e a colheita
não tarde. Já meus dedos se presentam
como instrumentos à terra matinal.
Ausentes os teus braços, a charrua
nega-se à lida, caminhança e bois;
o cata-vento remudece as hastes
que calentavam cedo anoitecer.
Não sei que faça dos celeiros. Vem:
setembro amadurece nos folhados
deixando-se nascentes para o estio.
Vem que me espanta o apascentar das ramas
e minha mãos, de frágeis, agonizam
nessa visão de lavras, de eira e sol.
TRIGAL
Por entre noites e noites, essas veredas
para os trigais maduros me acenando.
Despertam-se campinas, precipitam-se
as invenções da luz na ventania.
Por entre lua e lua, essa querência
– um resmungar de espigas conscientes
do retorno às searas, que ceifeiros
já descerraram olhos invernais.
Planície enlourecendo se oferece
e um mar desenha nos pendões crescentes.
Ceifeiros – seus marujos sem navios –
pescam sementes, riscam no amarelo
a saudade dos peixes inascidos
nesse (não mar das águas) mar de pão.
MOENDA
A rosa primitiva da moenda
está moendo
e o milho novo desabrocha páscoas.
Nos dedos ressurretos dos moleiros
recorta-se
farinhafloripão.
Sofrida pelo arado
a terra inova-se
reponta seiva na periferia.
Tenras hastes imersas vindo
mudam os alqueires em
verdivertical.
Há espigas,
cabeleiras brancas de pendões decepados
nas manhas de colheita;
há úmidos terreiros de sabugos vermelhos
onde a rosa,
a primitiva rosa
da moenda gira
e se alucina
em mesa branca e
melifloripão.
A APANHA
No verde o espanto cresce, de repente
se enramam tabuleiros e baixios,
renascem ventanias, sons raízes,
nervuras duma terra que desperta
alucinadamente a fecundar-se.
Agora é tudo um sol encantamento
nas acres cultivados em xadrez.
As ramas do algodão reverdecidas
habitam-se de flores amarelas
irresistindo à chega dos casulos.
Branca oferenda mostra-se o plantio
quando revinda a apanha. Apanhadores
irrompem dedilhando fibras e hastes:
estendem nas clareiras alvos seios
de carregadas plumas pelas aves.
Quando a lavoura escuta as vesperais
se cala, pois há lábios fatigados
cantando sua apanha no paiol.
Lenta, lá fora, no rocio, a seiva
fia maçãs, funda capuchos, gomos;
As ladainhas descem dos oiteiros,
cansaços se horizontam nas esteiras
onde é o amor, sementa, lavradura
nas noites desse algodoeiro chão.
MILHARAIS
Nos milharais plantados (minha infância),
recém-nascidas chuvas pelos rios
que rebentavam adubando várzeas
onde meus pés-meninos se afundavam
no cheiro fofo do paul novinho.
Terra multipartida, covas conchas,
das mãos do meu avô descendo o grão.
Pela manhã íamos ver as roças
à superfície frutos devolvendo
– folhinhas enroladas, verde calmo
se desfiando ao sol, em sol, de sol.
Quando escorriam outros aguaceiros
os dedinhos do milho iam subindo
em vertical, depois abrindo os braços
e já mais tarde o milharal surgia
os pendões leques leves abanando
o triunfal aceno da chegada.
E vinha logo a quebra das espigas,
eu chorava de pena, elas dobravam-se
por sobre o caule, tesas deslizando
no chão, nos aventais apanhadores,
sua palha entreaberta – riso triste
de quem, nascido, vê-se morto infante,
pois sendo espigas tenras, de repente
logo viravam massa, logo, pão.
Eu as tomava com temor doçura,
trançava seus cabelos, embalava-as:
eram espigas não, eram bonecas
que me aqueciam, eu as maternava
lavando-as, penteando-as, libertando-as
de gumes de moinhos e de fomes
dos animais domésticos, ancinhos,
fogueiras de São João. Pelos terreiros
procuro em vão os milharais vermelhos
de vermelhas papoulas adornando
as vaidosas tranças das espigas-
bonecas brancas, minha meninice,
meu avô habitando agora um campo
onde ele, em vez do milho, é uma semente,
meu avô, minha avó, os milharais,
não tendo mais infância, tendo-a mais.
COLINA E CABRAS
Com olhos vegetais
e caminhança displicente
cabras despertavam a colina
e mastigavam lírios
misturando pedregulho e talos
sob as patas.
E lírios da colina
se pastados foram
levou-os ventania
plantando-os em penedos
habitados de mar.
Onde agora nascem lírios
que alimentam cabras?
A colina existe nua
entre poente e mar.
E flores que nascessem
seriam (ainda púberes)
estancadas pelas águas
esquecidas dos rumos de descer.
CAVALO BRANCO
Cavalo branco
aos cercames abandonado
incerto
nessa pureza de menino antigo.
Cavalo branco
branco de ninguém.
Mastiga teu silencio;
o meu, deixa-o
largando-se aos fantasmas;
pisa-o
para que as pedras sejam seu regaço,
que as pedras são presenças neutras,
apenas.
Cavalo branco
assoberbado só:
na firmeza dos cascos
há caminhos ocultos que me esperam.
BOIS DORMINDO (I)
A Tomé Figueira
A paz dos bois dormindo era tamanha
(mas grave era a tristeza de seu sono)
e tanto era o silêncio da campina
que se ouviam nascer as açucenas
No sono os bois seguiam tangerinos
que abandonando relhos e chicotes
tangiam-nos serenos com as cantigas
aboiadeiras e um bastão de lírios.
Os bois assim dormindo caminhavam
destino não de bois mas de meninos
libertos que vadiassem chão de feno;
e ausentes de limites e porteiras
arquitetassem sonhos (sem currais)
nessa paz outonal de bois dormindo.
BOIS DORMINDO (II)
Os bois dormem ainda. Já cansaram
de ver que o chão em pasto não rebenta.
Do sono é que lhes vem o encantamento
pois nele o verde verdinovoaponta.
Eles abrigam (quando adormecidos)
nos olhos, o rumor, a nostalgia
do as noites invernais, as correntezas
onde iam beber água de manhã;
o cheiro dos estrumes que largavam
pelas queimadas, quando rasteavam
trilha tapera transbordando chuvas
de maio. São os bois. Não os despertem.
No sono seu ruminam madrugadas
que a terra seca não lhes pode dar.
MARCHA PARA O JUMENTINHO PASSARINHO
Passarinheiro
que invoou
Passaligeiro
que não bicou
Você apenas
tão jumentinho
milpradiou
a Pedradágua
lajeslisando
da Corujinha
pro Corredor.
Passacaminho
de caçuás
com resedás
se engravidou.
Passariinho
que não tem ninho
despassará?
Passadotempo
aguassecou
E passarinho
desrumiado
não mais lajeiro
passarinhou.
UM PÁSSARO ME HÁS DE DAR
Em manhã de pastoreio
ovelhas apriscando
largarás de tuas cismas
e cajado
que um pássaro me hás de dar
quando me amares.
Leve levemente mo trarás
das fontes dos teus olhos
sem nenhum pensamento
sem gesto liberto
a mansidão do teu silêncio
apenas.
À minha face matutina
descerá uma carícia
de pássaro
pousado.














































































